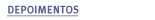Guilherme d’Oliveira Martins
 “A Aventura da Moraes” é um acto de elementar justiça. É raro que num momento tão especial da vida nacional, como foram os anos cinquenta e sessenta, tenha havido uma tão singular convergência de vontades (e de generosidades) para levar a cabo um projecto cultural, a partir de uma livraria, como o que foi possível, num tempo de policiamento dos espíritos e do que então o grupo de jovens idealistas de que falaremos designava, na linha da “revista de Mounier”, como “desordem estabelecida”. E se falo de convergência também de generosidades é para deixar claro que nada teria sido possível sem o investimento financeiro e sobretudo pessoal de António Alçada Baptista (AAB), que então pôs o que tinha (e o que depois viria a não ter) numa antiga livraria jurídica da Baixa (João de Araújo Moraes, Limitada), que um animoso grupo de jovens católicos quis transformar em lugar de irradiação cívica, a sonhar com um país diferente e com o que viria a ser (e ainda não era) o grande Concílio Vaticano II. Uma livraria da rua da Assunção, números 49 a 51, foi então sonhada como lugar de publicação de livros que AAB e os seus amigos consideraram ser essenciais para abrir os espíritos e as mentalidades. E se nós chamámos a esta evocação “A Aventura da Moraes” tal deve-se ao testemunho do próprio A. Alçada Baptista, publicado em A Pesca à Linha – Algumas Memórias (Presença, 1998), que agora voltamos a reproduzir, graças à simpatia do autor e da editora, em homenagem à audaciosa expedição que então se iniciou e que se propunha chegar a montanhas desconhecidas, em nome da liberdade de espírito. Aliás, se lermos os diversos testemunhos que agora recolhemos, a propósito da exposição organizada pelo Centro Nacional de Cultura no termo das comemorações dos nossos sessenta anos, temos de concluir que o que aconteceu nesse final dos anos cinquenta e início dos anos sessenta foi uma verdadeira “aventura”, talvez digna de Sandokan ou de Texas-Jack, para recordar os heróis profanos que o grupo de jovens bem conhecia.
“A Aventura da Moraes” é um acto de elementar justiça. É raro que num momento tão especial da vida nacional, como foram os anos cinquenta e sessenta, tenha havido uma tão singular convergência de vontades (e de generosidades) para levar a cabo um projecto cultural, a partir de uma livraria, como o que foi possível, num tempo de policiamento dos espíritos e do que então o grupo de jovens idealistas de que falaremos designava, na linha da “revista de Mounier”, como “desordem estabelecida”. E se falo de convergência também de generosidades é para deixar claro que nada teria sido possível sem o investimento financeiro e sobretudo pessoal de António Alçada Baptista (AAB), que então pôs o que tinha (e o que depois viria a não ter) numa antiga livraria jurídica da Baixa (João de Araújo Moraes, Limitada), que um animoso grupo de jovens católicos quis transformar em lugar de irradiação cívica, a sonhar com um país diferente e com o que viria a ser (e ainda não era) o grande Concílio Vaticano II. Uma livraria da rua da Assunção, números 49 a 51, foi então sonhada como lugar de publicação de livros que AAB e os seus amigos consideraram ser essenciais para abrir os espíritos e as mentalidades. E se nós chamámos a esta evocação “A Aventura da Moraes” tal deve-se ao testemunho do próprio A. Alçada Baptista, publicado em A Pesca à Linha – Algumas Memórias (Presença, 1998), que agora voltamos a reproduzir, graças à simpatia do autor e da editora, em homenagem à audaciosa expedição que então se iniciou e que se propunha chegar a montanhas desconhecidas, em nome da liberdade de espírito. Aliás, se lermos os diversos testemunhos que agora recolhemos, a propósito da exposição organizada pelo Centro Nacional de Cultura no termo das comemorações dos nossos sessenta anos, temos de concluir que o que aconteceu nesse final dos anos cinquenta e início dos anos sessenta foi uma verdadeira “aventura”, talvez digna de Sandokan ou de Texas-Jack, para recordar os heróis profanos que o grupo de jovens bem conhecia.
Não se tratou, porém, de uma aventura ingénua e desligada do mundo e da História. Por muito que os protagonistas tentem relativizar a importância das suas opções, o certo é que quando tudo começou (1958) apenas estavam a desenhar-se as primeiras mutações no regime político português, com uma lentidão exasperante. Se em 1945 houve quem sonhasse com os efeitos em terras lusas da vitória das potências aliadas na Grande Guerra, a verdade é que prevaleceu a “realpolitik” internacional, contra todas as esperanças e contra os sinais dos tempos que se faziam sentir intensamente. A verdade é que a oposição tradicional foi esbarrando com todo o tipo de dificuldades e de resistências. Tudo se ia mantendo de modo demasiado previsível. A promessa de instituições tão livres como as da livre Inglaterra não passara de propaganda; a “democracia orgânica”, esboçada timidamente não tinha consequências; nas eleições, os candidatos da oposição desistiam à boca das urnas em sinal de protesto contra a falta de condições de democraticidade… Era preciso “ter presente que, nesse tempo, a Igreja, o Exército, o funcionalismo público e a burguesia da província (estruturalmente ligada à Igreja), constituíam as forças sociais de apoio da situação saída do 28 de Maio de 1926” – recorda AAB. A inércia prevalecia contra a mudança, sob o aceno constante e doentio do fantasma da instabilidade e da questão religiosa da Primeira República, sistematicamente lembrado pelos defensores da “ordem”… No entanto, tal argumento não poderia convencer quantos, mais jovens, percebiam que tudo não passaria de uma questão de tempo. Mas não queriam esperar. A impaciência vinha-lhes do que viam, do ouviam e do que liam e dos sinais de mudança, um pouco por toda a parte.
A sociedade portuguesa ainda era rural, analfabeta, isolada, provinciana. Assim a viam os estudantes universitários que, formados nos movimentos católicos (e em contacto com as novas correntes de pensamento), tinham começado a preocupar-se com as questões sociais e políticas, pelo menos desde que a Juventude Universitária Católica, no início dos anos cinquenta, ganhara um impulso inconformista sob as presidências emblemáticas, e sempre lembradas, de Maria de Lourdes Pintasilgo e de Adérito Sedas Nunes. O país das dualidades e dos contrastes não estava, afinal, sozinho no mundo. Por muito que a censura e a polícia política actuassem, não podiam abafar o essencial das mudanças que se iam operando no pós-guerra, num período de optimismo económico, apesar de todas as incertezas de uma “guerra fria”, que era também pretexto usado pelos defensores do imobilismo para acenar com a bandeira abstracta da “civilização ocidental” contra tudo o que cheirasse a oposição crítica, que depressa ganhava o labéu comunista. Alguém falou então da revolução dos “pequenos peixes vermelhos em pias de água benta”, e todos sabiam bem o que estava atrás dessa aparentemente inofensiva acusação. Começava o tempo de que Ruy Belo designaria como dos “vencidos do catolicismo” – e a “Moraes” estava nesse epicentro. Mas houve uma pré-história, houve os antecedentes que ajudaram a construir uma consciência resistente, por contraponto e em oposição à “desordem estabelecida”.
O Padre Joaquim Alves Correia terminara os seus dias no exílio nos Estados Unidos por ter tentado reabrir o processo sórdido e nunca esclarecido da “noite sangrenta” do ano distante de 1921, fora das teses dominantes que amalgamavam os protagonistas da Primeira República, como se fossem todos iguais e como se representassem a cristalização de todos os males. O sacerdote espiritano acusara os sectores radicais conservadores de terem suscitado e apoiado a violência, falando de “mal e caramunha”… Também o Padre Abel Varzim, antigo deputado da Nação, deparara com uma violenta oposição à sua acção junto do movimento operário católico e, depois, na paróquia da Encarnação (em especial junto das prostitutas), sendo obrigado a partir para Cristelo (Barcelos) em 1957, onde morreria, não esquecido, mas silenciado. Francisco Lino Neto, um católico com um nome prestigiado de uma família profundamente ligada ao antigo Centro Católico, escreveu uma carta-aberta muito crítica a Salazar e, durante a campanha de Humberto Delgado, torna-se notícia na imprensa internacional, em virtude de a sua fotografia ter corrido mundo, agredido com a cabeça ensanguentada, em resultado da intervenção da polícia numa das manifestações de apoio ao General. No entanto, o facto de D. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, ter escrito a Salazar em nome da liberdade e da consciência social constituiu o maior escândalo neste conjunto de sinais de demarcação da Igreja em relação ao regime. Se era grave que uns quantos presbíteros e leigos católicos conhecidos se exprimissem criticamente em público, era impensável que um membro da hierarquia episcopal o fizesse também…
O Bispo, por fazer quatro perguntas a Salazar, viu-se, pura e simplesmente, impedido de regressar à sua diocese. E que questões eram as do prelado? Hoje fazem-nos sorrir, mas no momento em que foram formuladas soaram a crime de lesa-majestade. Eis as perguntas. Primeira: “Tem o Estado qualquer objecção a que a Igreja ensine livremente e por todos os meios, principalmente através das Organizações e serviços da Acção Católica e da imprensa a sua doutrina social?”. Segunda: “Tem o Estado qualquer objecção a que a Igreja autorize, aconselhe e estimule os católicos a que façam a sua formação cívico-política, de forma a tomarem plena consciência dos problemas da comunidade portuguesa, na concreta conjuntura presente, e estarem aptos a assumir as responsabilidades que lhes podem e devem caber, como cidadãos católicos?” Terceira: “Tem o Estado qualquer objecção a que os católicos definam, publiquem e propaguem o seu programa, ou programas, politicamente situados, em concreto hic et nunc, o que evidentemente não pode ir sem o despertar de mutações ousadas e substanciais e do seu clima emocional?” Quarta: “Tem o Estado qualquer objecção a que os católicos, se assim o entenderem e quando o entenderem iniciem um mínimo de organização e acção políticas a fim de estarem aptos, nas próximas eleições legislativas, ou quando o julgarem oportuno, a concorrer ao sufrágio, com programa definido e com os candidatos que preferirem?” As perguntas seguiam-se a um longo texto, com sólida fundamentação, contendo argumentos que Oliveira Salazar bem conhecia, pois eram os da “democracia cristã” e da “doutrina social da Igreja”, cuja divulgação punha em xeque os fundamentos da “situação”.
A verdade é que as circunstâncias estavam a mudar. A candidatura de Humberto Delgado à Presidência da República fora uma pedrada no charco. Um militar prestigiado, General do Estado Maior, antigo partidário fervoroso do Estado Novo desde as origens, vindo de Washington, com altas responsabilidades na Administração, rompera com o regime, quando se especulava sobre a não recandidatura de Craveiro Lopes. Nas Forças Armadas e na Igreja Católica, os corpos em que a “ordem” se baseava, surgiam vozes críticas. Francisco Lino Neto dissera: “Ao contrário do que afirmou, na última campanha, o Sr. Ministro da Economia, a Nação não está dividida entre o Estado Novo e uma oposição votada ao ostracismo. Toda a obra positiva do Estado Novo tem sido realizada com a colaboração técnica e profissional de muitos portugueses competentes que, na sua maioria, não estão politicamente com a situação, embora os métodos de intimidação não lhes permitissem tomar parte no debate político durante a campanha. (…) Há que ter em conta, por qualquer processo, este movimento nacional de opinião e dar-lhe os meios legítimos de expressão de doutrinação e de actuação”. A movimentação política levou em Março de 1959 à tentativa de “golpe da Sé”, em que se envolvem diversos amigos de António Alçada Baptista, como Jorge de Sena e Francisco Sousa Tavares, e que originou uma onda de prisões e intensificou a vigilância da polícia política em relação aos católicos oposicionistas.
É preciso dizer, ainda, para percebermos o que se passava, que a economia portuguesa dos anos cinquenta e sessenta era abalada pela abertura e pelo começo do fim de uma posição de isolacionismo e de proteccionismo a todo o custo. O comércio livre era um dado do novo tempo. E aqui suscitava-se a grande contradição: como seria possível abrir a economia sem liberalizar a política? Enquanto nascia o Mercado Comum Europeu, Portugal participava na organização económica animada pelo Reino Unido, a Associação Europeia do Comércio Livre (EFTA), que determinara uma nova política não proteccionista. Do mesmo modo, eram adoptadas medidas e realizados investimentos internacionais para a (algo tímida) modernização do País. A electrificação do continente e o avanço das telecomunicações exigiam que o fechamento do País desse lugar a uma abertura que pressionava as condições políticas e abria caminho a que o descontentamento e a incomodidade crescentes nas grandes cidades e em particular nos meios intelectuais viessem à superfície. E quem aparecia na linha da frente crítica eram pessoas insuspeitas de simpatia com as correntes oposicionistas mais antigas e radicais.
A opção de António Alçada Baptista ao comprar a Livraria “Moraes” para fazer dela um lugar de “resistência” intelectual, tinha como pano de fundo a tensão entre o arcaísmo e a modernidade. E o grupo de amigos de AAB queria abrir as janelas de par em par, mesmo que houvesse riscos… A vida era feita de risco, que importava correr, contra a ideia dos que repetiam a afirmação: “felizes dos povos que não tem História…”. O compromisso de AAB tinha a ver com a cultura, com a literatura, com as artes, com o abrir de horizontes no campo das ideias… “Editar e vender livros tinha mais a ver com a minha relação com o mundo e, juntamente com um livreiro e dois amigos meus, resolvemos comprá-la”. Depois de um primeiro momento sem grande sucesso, houve que reforçar o projecto e vieram os jovens recém-formados, do “Encontro”, órgão de imprensa da JUC, a Juventude Universitária Católica do tempo do Doutor António dos Reis Rodrigues, e do Centro Cultural de Cinema (o antigo Cine Clube Católico) – Pedro Tamen, Nuno de Bragança, João Bénard da Costa e Alberto Vaz da Silva. João Bénard da Costa narrou, aliás, esse percurso com grande pormenor.
A Moraes “começou a viver a sua epopeia”. Em lugar da rentabilidade da empresa, prevaleceu a ideia de que “alguns milhares de portugueses estavam ansiosos de livros que iam ao encontro de preocupações comuns, quer no que dizia respeito à liberdade da Igreja, quer à liberdade do cidadão”. Os membros do núcleo duro da editora estavam convencidos de que haveria o número suficiente de leitores para as obras que consideravam essenciais naquele momento. E assim foi lançada a primeira colecção – o “Círculo do Humanismo Cristão”. O primeiro volume, publicado em Outubro de 1958, foi Disparates do Mundo, de G.K. Chesterton, com tradução e prefácio de José Blanc de Portugal; o segundo, Pensamentos de Pascal, com tradução e prefácio de Salette Tavares e o terceiro, Força e Fraquezas da Família de Jean Lacroix, com tradução e prefácio de João Bénard da Costa. A placidez dos temas e dos autores não escondia, mas ao menos dissimulava, o objectivo inconformista dos jovens da “Moraes”: por um lado, partir do espírito cristão e, por outro, pôr os dedos nas feridas duma sociedade fechada e complacente. Paralelamente, nascia o “Círculo da Poesia”, inaugurado como a obra Fidelidade de Jorge de Sena e com O Sangue, a Água e o Vinho de Pedro Tamen, que acompanhava AAB na condução da nova e prometedora colecção de poesia.
Chesterton obrigava a ver o mundo às avessas… E nesse ano de 1958 ver o mundo às avessas correspondia a pôr em causa a normalização, que era marca dominante. Se Emmanuel Mounier republicara as “Memórias de um Burro” da Condessa de Ségur, no ocaso de Vichy, como acto de resistência, por que não pôr os “disparates do mundo” na ribalta? E José Blanc de Portugal respondia, cripticamente: “Não afirmo nem nego, mas se há alguma coisa a salvar na democracia – e eu julgo que sim, pela graça de Deus! – a meditação de Chesterton há-de nalguma coisa ajudar”… Hudge e Gudge estão na mira: “Gudge, o plutocrata, quer um industrialismo anárquico; Hudge, o idealista, fornece-lhe líricos elogios da anarquia. (…) Para cúmulo, Gudge governa por um rude e cruel sistema de pilhagem e exploração do trabalho de homens e mulheres, que é completamente inibitório da liberdade familiar, e conducente à destruição da própria famílias; logo Hudge, abrindo os braços ao universo, com um sorriso profético, nos anuncia que a família é qualquer coisa que em breve deveremos, gloriosamente, ultrapassar”… Afinal, o “conservador” mas iconoclasta Chesterton era usado para agitar as águas algo paradas de uma política que não poderia continuar como estava…
Se os “Disparates” jogavam com a ironia, que José Blanc de Portugal procurava subtilmente decifrar, Jean Lacroix apontava um conceito de família perverso e fechado: “porque aqui e agora se tem procurado, através do aparente respeito pela instituição familiar, corrompê-la por dentro por formas bem dolorosamente conhecidas; porque aqui e agora a família tem sido as mais das vezes figura de retórica ou capa para disfarçados interesses, e não atendida a sua dignidade, isto é, não provida nem defendida por aquele mínimo que essa dignidade exige” (no dizer de João Bénard da Costa). O que estava em causa era lançar temas novos e exigentes, para que se pudesse pensar para além dos parâmetros de uma normalidade policiada.
A própria escolha de Pascal não era inocente. A liberdade de espírito e o diálogo entre as culturas do coração e da razão eram o que importava salientar. Aliás, se virmos, por outro lado, os primeiros títulos de uma outra a colecção - “O Tempo e o Modo” - , anunciadora da revista bandeirante da editora de António Alçada Baptista (que apareceria em 1963), percebemos que há uma subida de tom no campo do inconformismo. O primeiro volume de 1960 traz-nos o livro “manifesto” da nova editora, a obra mais conhecida de Emmanuel Mounier (O Personalismo), traduzida por João Bénard, com uma carga muito crítica e heterodoxa, quer por força das opções políticas à esquerda do autor no pós-guerra, quer pelo alinhamento dos discípulos de Mounier na frente cívica contra a guerra da Argélia. O segundo (nºs 2 e 3) corresponde aos ensaios de crítica literária do Padre Manuel Antunes, com conhecidas simpatias por amigos e próximos do grupo que animava a livraria. O terceiro volume (nºs 4 e 5) é de Jacques Maritain (Princípios duma Política Humanista), e reúne ensaios escritos nos Estados Unidos, fortemente democráticos, contendo uma defesa muito firme das liberdades públicas. O quarto volume (nºs 6 e 7) tem um título sugestivo – Inquérito ao Marxismo, da autoria de Pierre Fougeyrollas – e abre campo à necessidade de um pensar aberto e crítico. O quinto é de Claude Tresmontant, a Introdução ao Pensamento de Teilhard de Chardin, que apresenta o diálogo vivo entre a ciência e a fé. O sexto fala da liberdade criadora e é da autoria de Charles Du Bos, O que é a Literatura?. O sétimo de João Pedro Miller Guerra, Medicina e Sociedade, lança um tema incómodo, que porá na ribalta o prestigiado professor de Medicina, que rapidamente se tornará uma das mais respeitadas e ouvidas figuras críticas do regime. E o oitavo volume é da autoria de Jorge de Sena, um escritor amigo de AAB, autor do primeiro volume do “Círculo da Poesia”, que entretanto se auto-exilara no Brasil, e que era uma das vozes mais lúcidas do novo panorama literário. A obra levava o título propositadamente rebarbativo de O Reino da Estupidez, e aí se lia: “só a fé é céptica, só a esperança é dúbia, só a caridade é displicente. E não o são por humanas serem, por traduzidas em termos das limitações materiais da condição humana. São-no precisamente como teologais virtudes exercidas no mais alto sentido: o de, fora da humanidade, não haver quem as exerça e as encarne…”
Sena escrevia da cidade de S. Paulo, com a pena ácida, no ano agitadíssimo de 1961, e só essa circunstância mereceria um alerta. O título levava, obviamente, água no bico. As prosas também, ainda que fossem pouco compreensíveis fora dos círculos iniciáticos da literatura. A prosa de abertura era bem demonstrativa do espírito que presidia ao livro, mas também ao novo projecto, que queria manifestamente forçar os acontecimentos, sob o olhar algo condescendente da oposição tradicional, que, apesar de tudo, aproveitava o novo balanço. Dizia Jorge de Sena: “quando o progresso das ciências postula que a religiosidade é, inescapavelmente, uma situação interior, cuja liberdade deve ser protegida e respeitada, qualquer normalização que extrapole esses limites, quer impondo aos outros uma conduta que nos seja atraente, quer tentando regulamentar aquela situação, viola os direitos sagrados da dignidade humana, essa dignidade que nunca soubemos tão bem, como hoje, qual deverá ser”. Afinal, a “regulamentação” da “situação interior” sabia-se exactamente o que era. Eram as várias formas de condicionar as liberdades e a dignidade. E Jorge de Sena di-lo, talvez para iludir a primeira impressão do censor, de um modo propositadamente difícil, que, depois de descodificado, representa uma denúncia tanto mais evidente quanto invoca as “virtudes teologais”, apondo-lhes qualidades da liberdade de espírito, legitimadoras da posição iconoclasta. Cepticismo, dúvida e displicência são, no fundo, marcas da resistência à normalização, à regulamentação e à formatação em série…
Nas colecções da “Moraes” havia ainda a excepcional qualidade gráfica em que José Escada e Sebastião Rodrigues tiveram um papel essencial. A discrição, o bom gosto, os sinais de modernidade são marcas distintivas. O belíssimo desenho do sol na colecção “Círculo da Poesia” tornou-se um “clássico”, como reconhece Pedro Tamen. Entretanto, o projecto foi singrando, com naturais dificuldades, com muito menos público leitor do que poderia prever-se no início, mas havia o reconhecimento por parte dos seus protagonistas que fazia sentido. A revista O Tempo e o Modo é longamente preparada. O título vem da já referida colecção baptizada por Pedro Tamen – “a acção começa na consciência. A consciência, pela acção, insere-se no tempo. Assim, a consciência atenta e virtuosa procurará o modo de influir no tempo. Por isso, se a consciências for atenta e virtuosa, assim será o tempo e o modo”. Trata-se de um momento político extremamente importante. Tratava-se de afirmar uma oposição não-comunista, e tanto Mário Soares como Salgado Zenha, mas ainda o jovem Jorge Sampaio, herói da crise académica de 1962, compreenderam-no bem e alinharam.
Confidencia AAB: “Embora nem todos concordassem com uma acção política ‘católica’ e entendêssemos que os católicos deviam integrar-se nos vários partidos com os quais tivessem afinidades, era muito importante, por razões tácticas internas e pela necessidade de contactos com os partidos democratas-cristãos de outros países, que alguns católicos se reclamassem de uma intervenção política”… Havia, pois, razões tácticas na decisão de criar uma revista de “pensamento e acção” que pudesse ser base de mobilização de uma opinião pública que desse seguimento ao sobressalto de 1958 e a tudo o que se seguira. Só a democracia cristã italiana deu sinais de querer apoiar a “resistência” portuguesa – e diga-se, em abono da verdade, que o papel de Mário Ruivo (alto funcionário da FAO, e oposicionista de sempre, desde os tempos do MUD Juvenil) na criação destas pontes foi indispensável. Noutros países apenas houve apoios intelectuais, em especial em França, com Pierre Emmanuel, presidente da “Association Internationale pour la Liberte da la Culture” e com Jean-Marie Domenach, director da revista “Esprit”, que mantinha as suas distâncias em relação à democracia cristã, estando mais próximo de Pierre Mendès-France e de De Gaulle, sobretudo depois do volte face da Argélia. A posição da revista sobre a questão colonial levou a que fosse proibida a circulação em Portugal, não sendo sequer permitida pela censura qualquer referência a “Esprit”, o que levou a redacção de “O Tempo e o Modo” a usar o subterfúgio de falar na “Revista de Mounier”. Domenach viria, aliás, a ser impedido de entrar em Portugal num rocambolesco episódio, em que a PIDE vedou quaisquer contactos com ele no hotel em que o prendeu, depois da chegada ao aeroporto, recambiando-o de regresso a Paris, após negociações com o mais alto nível do governo.
A revista tornou-se um dos veículos fundamentais para afirmar uma nova atitude na vida política portuguesa, até então centrada numa dualidade entre a situação e o partido comunista. O pluralismo e a demonstração da importância do debate de ideias num confronto de perspectivas diferentes antecipavam a necessidade da democracia. E se politicamente a revista significou um abrir de novos horizontes, também deu direito de cidade a novas correntes literárias e artísticas e a novos escritores e poetas, fora do neo-realismo ou do alinhamento conservador. Jorge de Sena, Vergílio Ferreira, Eduardo Lourenço, Agustina Bessa-Luís, António Ramos Rosa, Sophia de Mello Breyner ou Ruy Belo puderam “ser valorizados segundo o seu talento”.
A livraria passou, no final dos anos sessenta, para o Largo do Picadeiro, número 11 (hoje instalações do CNC), onde Edmundo Costa, antigo colaborador do Padre Varzim, se tornou a sua face visível. Também abriu uma sucursal na Cidade Universitária. José Cardoso Pires colaborou na editora a partir de 1967. No entanto, as dificuldades financeiras começaram a fazer-se sentir. A hierarquia da Igreja sentiu-se incomodada em virtude da actividade editorial da Livraria e do “progressismo” da revista. Foi o tempo dos cadernos de “O Tempo e o Modo”, lançados para evitar a submissão à censura prévia, que martirizou a vida da revista, que teve seis mil páginas cortadas. Os cadernos tiveram destinos diferentes: um, sobre o Casamento, foi apreendido, pura e simplesmente; o outro, intitulado “Deus, O que é?” não foi apreendido e teve assinalável êxito. Nesse período, sob o forte entusiasmo da eleição do Cardeal Montini como Sumo Pontífice, foi publicada pela “Moraes” a revista internacional “Concilium” (entre Janeiro de 1965 e Dezembro de 1969), cuja secretária da redacção foi Helena Vaz da Silva, contando com textos de autores consagrados, na linha da renovação e do aggiornamento do Concílio Vaticano II, como Karl Rahner, Hans Küng, Yves Congar, Henri de Lubac, M.D. Chenu e Schillebeeckx. Os teólogos, que tinham sido considerados suspeitos antes do Concílio tornaram-se fundamentais, agora que as novas orientações tinham de ser postas em prática. Uma vez que a revista não obteve o “imprimatur” por parte das autoridades eclesiásticas portuguesas, AAB contactou D. Hélder Câmara Arcebispo de Olinda e Recife. E foi feita a combinação seguinte - a “Moraes” passaria a ter uma base fictícia no Recife, que permitiria a um bispo brasileiro, Dom Aluísio Lorcheider, dar as licenças necessárias para a publicação.
A “aventura da Moraes” acompanhou, pois, directamente o fim da ditadura e a transição. Tratou-se mesmo de um exemplo dessa passagem, pela de dúvidas e de ambiguidades. O acidente da Salazar e a emergência do marcelismo abriram expectativas, mas revelaram bloqueamentos insanáveis. “A verdade é que a guerra colonial radicalizara os conflitos na sociedade portuguesa (diz-nos AAB) e as gerações mais novas, que sofriam com maior agudeza o desastre da guerra, muito compreensivelmente não estavam dispostas a contemporizar com soluções reformistas”. A “liberalização progressiva do regime” não funcionou, como o próprio António percebeu, a meio das suas “Conversas com Marcello Caetano”. Faltavam a vontade e as condições. E a evolução da revista “O Tempo e o Modo” ilustrou a tensão evidente no fim do regime. Os ventos de Maio de 1968 tiveram forte influência nas novas orientações dominantes nos meios culturais e universitários… Se a linha editorial da “Moraes” e sobretudo a 1ª série da revista “O Tempo e o Modo” tiveram uma influência decisiva, até em África, para os jovens milicianos, que puderam ter contacto com uma visão aberta e arejada da cultura e do mundo, a verdade é que, depois de 1969 a pressão dos acontecimentos foi enorme.
A situação económica da livraria teve uma evolução muito negativa. As dívidas foram-se acumulando e agravando. Os apoios são insuficientes. Domingos Megre, José Luís d’Orey, Alfredo Maria Cunhal, Fernando Pizarro, Miguel Caetano, João Botequilha, Eduardo Gomes Cardoso constituem a lista dos “amigos” que não regatearam esforços, até chegarem à conclusão, em 1972, de que seria necessário liquidar a sociedade e fazer um acordo com os credores. A história que se seguiu é conhecida, desde a Sociedade Financeira Portuguesa a “O Século” (venda compulsória, que se deveu à publicação de um livro da autoria de Francisco Sá Carneiro), com António Alçada a cumprir as obrigações dos avales pessoais que tinha assumido durante cerca de vinte anos através de descontos nos vencimentos de funcionário público, provando que a sua generosidade e o idealismo exigiram-lhe muito mais do que a boa vontade. O próprio desabafa: “Esta aventura falhou porque a camada da sociedade portuguesa a quem ela se dirigia recusou frontalmente a sua colaboração e não esteve disposta a correr nenhum risco nem, na prática, se sentiu minimamente solidária com o esforço que estava a ser feito”. Mas afirma ainda não ter qualquer ressentimento: “o que me parece necessário é procurar as razões profundas que levaram a sociedade portuguesa, sobretudo as suas elites, a submeterem-se inteiramente a um regime que afinal mostrou serem muito frágeis os alicerces em que assentava o seu poder”… Pediam-se, afinal, coisas acessíveis, e não foi dado o mínimo, para evitar uma “guerra absurda”, a espoliação da liberdade pessoal e o domínio da indiferença e do oportunismo, mascarado tantas vezes de zelo militante…
A “aventura da Moraes” fez-se sobre a história portuguesa de duas décadas, intensamente vividas, de uma longa transição anunciada, mas com destino tantas vezes adiado. Ora as expectativas pareciam ridentes, ora tudo se via mergulhado no mais escuro dos negrumes. Se, com a “pedrada no charco” de Humberto Delgado, tudo pareceu tornar-se possível em 1958, e foi então que a Livraria se tornou lugar de “resistência”, a verdade é que as tentativas de golpe, as crises estudantis, a guerra colonial foram permitindo que a “situação” se defendesse, beneficiando da conjuntura internacional da guerra fria. Mas, no fim de tudo, o regime “mostrou serem muito frágeis os alicerces em que assentava o seu poder”. As diversas incapacidades iam-se somando, num estranho efeito de espelho.
Independentemente das explicações, o certo é que foi preciso esperar pelos efeitos da abertura económica, do crescimento e do anúncio de prosperidade material, associados à insustentabilidade de uma guerra que exigia solução política (mesmo que tardia), para que os acontecimentos sofressem uma aceleração.
O marcelismo apenas serviu para demonstrar que as transições levam invariavelmente à “fuga para diante”, quaisquer que sejam as circunstâncias e as resistências. A “Moraes” foi um revelador. Partiu de uma ruptura inexorável nascida no seio de sectores inconformistas da Igreja, no momento em que os ventos conciliares mais não significavam do que a resposta aos sinais dos tempos, e quando África e a América Latina se afirmavam como territórios de grande desenvolvimento de um catolicismo que tinha de se renovar. Os “vencidos do catolicismo”, como bem viu Ruy Belo, funcionaram como os outros “vencidos” do final do século XIX, o seu sentido crítico levou-os a sacrificarem-se na ara histórica, como anunciadores de um novo tempo, incapazes de controlar as forças contraditórias que libertaram, como autênticos “aprendizes de feiticeiros”, que sofreram os efeitos das suas audácias. Entre Gudge, o conservador, e Hudge, o radical arregimentado, dos Disparates do Mundo sofreram por incompreensão dos que olham o mundo como divisão maniqueia. Resta saber se há vencidismos definitivos…