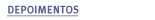João Bénard da Costa
É esta a terceira vez em que eu participo em comemorações de “O Tempo e o Modo”. Em 1983, no vigésimo aniversário do lançamento da Revista, escrevi um artigo para um suplemento cultural, que se publicava à época no Diário de Notícias, a convite do António Barreto, que co-dirigia esse mesmo suplemento com Maria Filomena Mónica e Luís Salgado de Matos. António Alçada Baptista e Vasco Pulido Valente escreveram também, numa espécie de história a três vozes de O Tempo e o Modo. No artigo que então escreveu, Vasco Pulido Valente dizia que sem duas pessoas O Tempo e o Modo não teria existido.
A primeira era – é – António Alçada Baptista, que a lançou como edição da Livraria Moraes (que ele tinha comprado na segunda metade dos anos 50, quando trocou a carreira de advogado para iniciar uma actividade de livreiro e depois de editor). António Alçada Baptista pagou a Revista e nela gastou uma quantia que Guilherme d’Oliveira Martins quantifica em 100 mil euros de hoje. Quantia enorme que ele perdeu. E foi António Alçada Baptista quem dirigiu O Tempo e o Modo entre Janeiro de 63 e Maio de 69, durante seis anos e meio.
A outra pessoa – dizia Vasco Pulido Valente – era eu. Confirmo e não desminto porque considero (modéstia à parte e com a objectividade possível) que investi n’ O Tempo e o Modo o melhor de mim, pelo menos até meados de 1970.
Quero, contudo, juntar quatro outros nomes ao número de pessoas sem as quais “O Tempo e o Modo” não teria sido o que foi.
O próprio Vasco Pulido Valente, subchefe de Redacção desde Outubro de 63 a Maio de 67, quando partiu para Oxford, cuja contribuição foi capital. Muito novo quando entrou para a Revista (tinha 21 anos), foi nas páginas de O Tempo e o Modo que o seu estilo, a sua acutilância e o seu brilho se manifestaram pela primeira vez, tornando O Tempo e o Modo mais polémico, mais irreverente, mais agressivo, e abrindo-o à geração de universitários que se seguiu à geração de 62: Luís Salgado de Matos, Alexandre Bettencourt, Júlio Castro Caldas, José Lavradio, etc. Recordo sobretudo José Lavradio, que morreu logo no início de O Tempo e o Modo, em 1965.
O segundo nome é o de Nuno de Bragança, que não só fez parte do grupo inicial, como lançou a secção de Noticiário Crítico, que inaugurou e dirigiu num estilo que veio a fazer escola na imprensa portuguesa, um português novo, “desenvolto” – chamou-lhe à época Eduardo Lourenço -, nos antípodas do academismo que os órgãos congéneres praticavam. De 63 a 66 (continuando depois a colaborar), ele foi o responsável pela qualidade da Revista e pela sua garra. O futuro autor de A Noite e o Riso, de Directa e de Square Tolstoi, um dos nossos romancistas mais inovadores, impregnou com o seu estilo as páginas de O Tempo e o Modo, ao mesmo tempo que, sendo um dos católicos fundadores, era aquele que se situava mais à esquerda. Ele a abriu para um diálogo intenso com a vanguarda política que vinha de 62 e depois esteve na base do Movimento de Acção Revolucionária (o chamado MAR), muito activo entre 63 e 65.
A terceira pessoa é Alberto Vaz da Silva, outro dos fundadores que, de 63 a 67, dirigiu a secção de Artes e Letras, a mais polémica de O Tempo e o Modo porque foi a primeira a separar o domínio das artes do da política, abrindo as páginas da Revista a alguns dos nossos melhores escritores, poetas ou cineastas bastante suspeitos aos olhos da ortodoxia da esquerda tradicional, que sempre vira até aí no neo-realismo a componente estética da oposição ao regime. Agustina Bessa-Luís, Herberto Helder, Ruy Belo, Ramos Rosa, Mário Cesariny, José Bento, Manuel Poppe, Manoel de Oliveira, Paulo Rocha, Fernando Lopes, João César Monteiro, António-Pedro Vasconcelos, Alberto Seixas Santos foram, entre muitos, aqueles que marcaram a Revista e perfizeram a ruptura com a ortodoxia tradicional. Foi a ruptura mais determinante, e talvez hoje historicamente a mais importante, de quantas se deram em O Tempo e o Modo.
Dois nomes decisivos, Jorge de Sena e Eduardo Lourenço, até esses anos mais ou menos esquecidos pelas culturas dominantes, quer a do regime, por boas razões, quer a do P.C. também por boas razões, tornaram-se logo a partir de 63 (o nº 6) dois dos colaboradores mais regulares da Revista, iniciando nela o seu magistério determinante na nossa cultura, que no caso de Jorge de Sena durou até à sua morte em 78 e, no caso de Eduardo Lourenço, felizmente até hoje se mantém, na unanimidade praticamente alcançada nas últimas décadas e que tão justamente o impôs como o maior dos nossos intelectuais, para usar uma palavra muito utilizada nos tempos de O Tempo e o Modo e que hoje, nesta era do neo-analfabetismo, tão execrada é. O Tempo e o Modo tratou-os como ninguém antes os tratara, como sublinhou, com razão, Vasco Pulido Valente, no artigo de 1983 que acima citei.
O quarto nome que eu queria sublinhar é o de Helena Vaz da Silva. Após ter sido a responsável e a principal animadora da edição portuguesa da revista Concilium entre 65 e 67 (outro projecto de António Alçada Baptista), sucedeu a Vasco Pulido Valente como subchefe de redacção. E foi a única dos nomes citados que se manteve na Revista até 1970, até eu também a deixar. Iniciou nela um novo grafismo, em 1968, (capa a cores e com fotografias ou desenhos), no período em que também entrou para a Revista uma nova geração de colaboradores como Alfredo Barroso, Jaime Gama, José Luís Nunes, Alberto Costa, etc, etc.
Os célebres cadernos “revolucionários” de 68 – “O Casamento”, “Deus, o que é?” – não são pensáveis sem ela, corpo e alma dessas edições, que tiveram a designação de Cadernos a fim de os retirar da periodicidade mensal da Revista e, portanto, de lhes permitir não serem submetidos à censura prévia. À época, as publicações periódicas eram submetidas a censura prévia, mas livros e cadernos não eram censurados previamente. Eram apreendidos quando não agradavam. E apreendido foi o caderno do Casamento.
Sem estes nomes, não desmerecendo da colaboração de tantas outras dezenas de colaboradores e de tantos a quem tanto se deve, O Tempo e o Modo não teria sido possível. Justo é associar-lhes o nome de Pedro Tamen, que na Moraes era o braço direito de António Alçada Baptista, dirigindo as várias colecções dessa editora, desde o Ciclo do Humanismo Cristão até àquela que, antes da Revista, se chamou também O Tempo e o Modo. Editor da Revista, a Pedro Tamen se deve o nome dela.
Disse que participava na terceira comemoração de O Tempo e o Modo. Para lá dessa de 1983, que me levou a esta digressão, a segunda mais relevante teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, em 1990, quando Helena Vaz da Silva, desde 1978 à frente do Centro Nacional de Cultura, organizou uma série de manifestações sob o título “Anos 60 – anos de mudança”. Uma dessas sessões foi dedicada a O Tempo e o Modo e a Gulbenkian acolheu-a quando era seu Presidente o Dr. José de Azeredo Perdigão. Ele presidiu a essa sessão, ladeando o então Presidente da República, Dr. Mário Soares. Em 1990, um Presidente da República se associou às comemorações de aniversário de O Tempo e o Modo: Mário Soares em 1990 e Jorge Sampaio, em 2003. Ambos foram colaboradores da Revista desde o primeiro número. Primeiro número em que, dos três artigos de fundo, dois eram assinados por futuros Chefes de Estado. O terceiro era um artigo de António Alçada Baptista. Foi intuição genial dele juntar estes dois nomes logo no primeiro número de O Tempo e o Modo. Se nos viessem dizer nessa altura, que esse número contava com dois futuros Presidentes da República, na capa, nenhum de nós acreditaria. Para mim, que acredito que os acasos nunca acontecem por acaso, essa singular coexistência parece-me mais do que uma predestinação.
Durante estes vinte anos, de 1983 até hoje, foram inúmeras as teses de licenciatura, de doutoramento, ou trabalhos de investigação sobre O Tempo e o Modo. Inúmeras vezes me procuraram para tentar reconstituir a história da Revista, como aconteceu certamente a tantos outros. À época, nenhum de nós pensaria numa projecção semelhante. A mim, nunca me passou pela cabeça que, quarenta anos depois, estaria ainda a falar sobre O Tempo e o Modo. A História, toda a História, implica sempre uma dose de mitificação, quando não de mistificação. Todos os que participaram em acontecimentos determinantes ou em movimentos fundadores, estão sempre como o célebre herói de Stendhal em Waterloo. Vivem esses momentos em enorme confusão, sem saber, ou só sabendo no fim, que participaram num momento histórico. Não julgo, por mim pelo menos, que haja mistificação em torno de O Tempo e o Modo. Haverá mitificação? Faz parte da História havê-la. Como se diz num célebre filme do John Ford, “quando os factos se tornam lenda, imprimam-se as lendas e não os factos”.
A história de O Tempo e o Modo pode contar-se de duas maneiras: uma, mais comezinha, dirá que, em 1958, António Alçada Baptista, um pouco mais velho do que o restante grupo fundador, encontrou um grupo de católicos que, nesses anos, concluíam os estudos universitários e participavam na Acção Católica em lugares de destaque na hierarquia dela. Todos tinham sido membros da JUC e todos tinham feito o jornal desta, o Encontro. Daí, que tenham ficado com o bicho do jornalismo e que tenham começado a sonhar com um órgão de expressão que vinculasse a ruptura que eles próprios assumiam, desde 1958, com aquilo que Emmanuel Mounier chamava “a desordem estabelecida” e que, no caso português, tomou a forma do regime salazarista. Desde 1958, faziam parte de uma incipiente oposição católica que, nalguns momentos mais agudos, se manifestava em documentos colectivos que não reuniam mais do que 45 nomes, 45 pessoas que ousavam dar o nome para lutar contra o regime e pagaram por isso.
Pode-se evocar a Revista como um encontro de amigos. E dizer: “Isso foi uma banal aventura de amigos!” Quando muito, evocar o célebre livro de Raïssa Maritain, Les Grandes Amitiés. Mas pode-se também dizer que nela se institucionalizou historicamente o diálogo entre crentes e não-crentes: diálogo com Mário Soares, Salgado Zenha, e o embrião do futuro Partido Socialista; diálogo com a geração de 62: Jorge Sampaio, Manuel de Lucena, Victor Wengorovius, Sottomayor Cardia, José Medeiros Ferreira, estes últimos com uma postura mais radical. Mas todos unidos numa mesma vontade de lutar contra o salazarismo e de instituir um regime democrático em Portugal.
Numa versão, temos uma história de capela; na outra, temos um acontecimento muito importante nas vésperas ou na preparação do 25 de Abril, a madrugada com que sonhámos, para usar um verso célebre de Sophia, o momento que todos esperávamos, e de que tantas outras vezes desesperámos. Eu julgo que ela foi uma e outra coisa. Foi uma aventura de amigos e acabou por ser uma referência determinante.
Quem era este “nós” a que me refiro? Éramos seis: António Alçada Baptista, Nuno de Bragança, Alberto Vaz da Silva, Pedro Tamen, Mário Murteira e eu. Tínhamos todos acabado a Universidade, como já disse, e tínhamos como modelo a revista Esprit, fundada em França em 1932 por Emmanuel Mounier. Como tínhamos por referência o personalismo cristão do mesmo Mounier. O primado da pessoa humana e da eminente dignidade desta, o diálogo, a luta contra a desordem estabelecida, a recusa de perspectivas confessionalistas, certos de que só no diálogo com não-crentes podíamos lançar as bases do que o próprio Mounier chamou “a esperança dos desesperados”.
A revista seria, ou foi, a concretização disto tudo. Sonhávamos com ela desde a Universidade. Mas não havia meios para a fazer. António Alçada, quando o conhecemos, tinha a livraria, tinha uma editora, e deu-nos a possibilidade de a fazer. Era também sonho dele. Estes dois sonhos juntaram-se.
Mas a Revista seria só nossa ou seria uma revista de diálogo “crentes – não-crentes”? Nunca se excluiu que os não crentes viessem a colaborar largamente na “nossa Revista”. Mas o problema era: devíamos tê-los no nosso interior, no núcleo fundador da Revista, ou a Revista devia ser só deste grupo e receber os “outros” apenas como colaboradores?
Foi o primeiro grande debate, ao longo do ano 1962. E, como já contei tantas vezes, quando chegou o momento da decisão e de votar o alargamento do grupo a não crentes, um de nós propôs que se rezasse uma Ave-Maria para que o Espírito Santo nos iluminasse nessa escolha. Ganhou a abertura. Como uma vez escrevi, “uma Ave-Maria e Mário Soares”. Porque Mário Soares e Francisco Salgado Zenha, amigos de António Alçada Baptista, foram os primeiros nomes em que este pensou. Prontamente aceitaram o desafio para participar. Depois, alargámo-la também à geração de 62, que já mencionei, e da qual muitos de nós éramos amigos ou que conhecíamos bem.
Para além dos seis nomes indicados – Mário Soares, Francisco Salgado Zenha, Jorge Sampaio, Manuel de Lucena, Adérito Sedas Nunes, Manuel dos Santos Loureiro, Orlando de Carvalho, Mário Brochado Coelho, Francisco Lino Neto e Sottomayor Cardia fixaram em dezasseis o número de membros do Conselho Consultivo primeiro órgão colegial da Revista. Depois, ainda nesse mesmo ano, entraram Victor Wengoróvius, João Cravinho e Vasco Pulido Valente. Dezanove pessoas, à roda de uma mesa na Rua dos Douradores, sede da Livraria Moraes. De fora, atacavam-nos crentes e não-crentes. A Igreja olhava-nos mais que suspeitosa. Tínhamos sido nós que já tínhamos rompido com a hierarquia em 58, à época do célebre conflito com o Bispo do Porto. Éramos nós a quem ironicamente se chamava “católicos de mão estendida”, ovelhas tresmalhadas ou ovelhas ronhosas de um rebanho que até aí, com algumas excepções, tinha seguido com maior ou menor entusiasmo o Estado Novo. Como o próprio Salazar nessa altura o disse: alguns gabam-se, e fazem-no “com a maior jactância, – a frase é dele – de terem rompido a frente até agora constituída pela Igreja e pelo Governo. Se isto continuar e se a hierarquia os não meter na ordem, serei obrigado a intervir, o que farei com muita pena porque julgo que alguma coisa terei contribuído para o ambiente de pacificação entre a Igreja e o Estado”. Foram palavras de Salazar, que cito de cor, mas com justeza.
Várias vezes se chegou a falar nessa altura, da condenação da Revista pela Igreja, cuja leitura chegou a ser proibida em seminários e onde todos os padres foram proibidos de colaborar. Só o fizeram sob pseudónimo, muitas vezes.
Do lado dos não-crentes, a suspeita era que esta operação para uma coexistência com a água benta viesse a ser, como se dizia na altura, o gérmen do diálogo entre um futuro Partido Democrata-Cristão e o futuro Partido Socialista, ou, ainda mais cruamente, entre a democracia cristã e a social-democracia.
Só que a democracia cristã não era ideal para uma geração que não se revia na confusão entre política e religião. E, com mais ou menos radicalismo, recusavam muitos destes católicos, sobretudo o grupo mais jovem da Revista, tanto a social-democracia, como a democracia-cristã, inimigos maiores para os que se agrupavam em movimentos como o já citado Movimento de Acção Revolucionária (MAR).
Mas as grandes polémicas iniciais no seio da Revista não foram políticas. Foram culturais. O pomo da maior discórdia foi a secção de Artes e Letras. O que escandalizava a maior parte dos colaboradores era que nomes que não tinham nenhuma identificação com a oposição fossem os mais abordados, mais comentados, enquanto eram esquecidos os habituais colaboradores em todos os órgãos ou revistas de esquerda. Esse foi o grande debate. Mas também muitos dos não católicos nos faziam notar, inegavelmente com razão, que se nós, os católicos, podíamos falar abertamente nas páginas da Revista do personalismo e citar Mounier (não podíamos citar a revista Esprit, porque a Esprit era conhecida da censura desde que louvou os movimentos de libertação africanos), se podíamos escolher para antologias (que eram uma outra secção habitual da Revista) textos de Paul Ricoeur, de Albert Béguin, de Jean-Marie Domenach, de Jean Lacroix ou, noutro nível e tantas vezes, textos dos Padres Conciliares ou do Papa João XXIII ao tempo da Pacem in Terris, eles não podiam citar as suas fontes de inspiração marxista, nem podiam citar Karl Marx ou mesmo os marxistas mais heterodoxos desse tempo.
A polémica centrou-se também sobre o marxismo. Num número dedicado às mitologias, em 1966, Vasco Pulido Valente visa-o num artigo chamado “Mitos e Oráculos”.
A partir de 1964, praticamente desapareceu o Conselho Consultivo. Não por rupturas ou qualquer conflito (os nomes dele continuaram quase todos a colaborar), mas porque aquelas vastas reuniões se revelavam cada vez menos importantes para a vida quotidiana da Revista e ela era assegurada no seu dia a dia pelas equipas centradas em torno do Noticiário Crítico e das Artes e Letras. Foram esses grupos que animaram a Revista, que a criaram e a formaram no seu dia a dia. A partir de 64, ela foi feita no interior, além de António Alçada Baptista, sobretudo por mim e por Vasco Pulido Valente. A partir de 66/67, muitos dos fundadores saem para outros combates ou exilam-se. Alguns foram presos, como Luís Salgado de Matos. A Revista ainda tentou aludir a esse facto, mas a censura cortou. A intervenção da censura era permanente. Mas se fosse falar do papel da censura, teria que ultrapassar em muito esta minha intervenção.
Escassos eram os apoios, escassos os fundos. Em 68, tornou-se evidente que a Livraria Moraes, ou o António Alçada Baptista, não ia poder continuar a aguentar por mais tempo o peso financeiro que ela significava. A Revista mudou de capa, (ideia de Helena Vaz da Silva a que já aludi), usou fotografias e cores para tentar atrair. Mas nem este esforço se revelou fecundo. Os Cadernos, tiveram grande impacto mas não trouxeram muito mais leitores. Em 1969, António Alçada, deixou de a poder continuar a suportar.
Formou-se, então, uma sociedade anónima onde uma dezenas de accionistas, entraram com algum dinheiro para a aguentar. Havia os sócios da série A (os fundadores, os representantes dos redactores e dos colaboradores) e os sócios da série B (os que compraram acções). No entanto, apesar do grande poder teoricamente dado aos sócios da série A, os ventos de 68 empurraram-nos, e empurraram-me particularmente a mim, para tentar abrir a Revista às novas correntes surgidas nessa época, aos “maístas” e os “maoístas”, e que representavam linhas de pensamento fora das duas ortodoxias: a oficial ou a do Partido Comunista.
Mas esse diálogo que então se preparou e que eu pensei poder ser um novo diálogo enriquecedor, transformou-se, a breve trecho, durante o ano de 1970, num domínio crescente da ala maoísta. Por isso, em finais de 1970, tanto a Helena Vaz da Silva como eu abandonámos a Revista, que ficou entregue a esse grupo. Iniciou-se uma segunda fase de “O Tempo e o Modo”, a que sou alheio e que não irei comentar.
O que estou aqui a considerar é o período que vai de 1963 a 1970, que abrange os anos 60 e em que “O Tempo e o Modo” representou essa luta contra a desordem estabelecida, a instigação ao estabelecimento duma democracia ou à luta por ela, um diálogo novo. Sobretudo um estilo novo, uma maneira de escrever, de pensar e de dizer coisas que entravam em choque com muitos dos valores estabelecidos.
Por último e para finalizar, queria falar muito brevemente de uma outra transformação. Mesmo no domínio dos costumes e tanto quanto nos permitia a censura, essa heterodoxia ou essa irreverência se manifestaram. O Caderno do Casamento (por isso, o mesmo caderno veio a ser apreendido) era exactamente isso: um caderno em que se punha o casamento em questão e em que, com depoimentos dos mais variados sectores, se pensava ou se reflectia aquilo que, a partir de 68, entrou também nos tempos e modos. Ou seja, a revolução sexual ligada à revolução política, ou a transformação sexual ligada à transformação política. Esse número não só foi apreendido como desencadeou polémicas terríveis, mesmo entre pessoas que estavam próximas de nós e que se mostraram francamente escandalizadas com ele.
Como polémica terrível marcou também o número sobre Deus, que a Helena Vaz da Silva chamou “Deus, o que é?” e que incluiu dois debates gravados. Um entre católicos que já tinham abandonado a Igreja ou continuavam no interior dela e que se questionavam sobre esse abandono e o seu significado; outro, restrito a não crentes. Acontecimento perfeitamente singular foi reunir num diálogo sobre Deus pessoas como, por exemplo, Sottomayor Cardia, José Luís Nunes, Jaime Gama, João Martins Pereira, José Carlos Ferreira de Almeida, Miguel Castro Henriques. Todos a discutirem Deus, quando todos eram, declaradamente, ou agnósticos ou ateus e todos estavam completamente longe do mundo da crença.
Rapidamente esse debate, como notou um dos intervenientes, se transformou numa passagem do Pai Deus para o Pai Marx, ou seja, se transformou num debate entre várias leituras e várias interpretações do marxismo. À época, quando esse caderno saiu, recebi uma carta de Eduardo Lourenço em que ele me disse que considerava esse Caderno como um dos acontecimentos mais importantes ocorridos em Portugal, pois que confrontava fantasmas e mitos permanentes na nossa cultura.
Mas cada número foi um pequeno escândalo ou uma pequena fonte de polémicas. Por dentro, arrepelávamo-nos com os cortes da censura, com o número que tínhamos pensado e o número que saía cá para fora. Acusávamo-nos muitas vezes. Desesperávamos: “Isto não presta para nada!”. De fora, vinham-nos ecos animadores, mas tanto o diálogo como as vicissitudes dele, como a própria vida e morte da Revista, testemunham, que, se muitos a apoiavam de fora, poucos estavam dispostos a arriscar muito nela. E daí a curta duração desta Revista. Quando se pensa, por exemplo, que uma revista como a Esprit, fundada em 1932, ainda hoje existe, e “O Tempo e o Modo”, durou apenas sete anos, há alguma matéria para reflexão.
Lembrou-me, muitas vezes, de uma história que António Alçada Baptista contava. Alguém lhe telefonou dizendo que ele não tinha o direito de ter abandonado O Tempo e o Modo. António Alçada respondeu: “Bom, também não sei com que direito é que você me está a dizer isso. Porque você não assinou “O Tempo e o Modo” e muitas vezes me disse que não gostava da Revista. Portanto, porque é que eu não tinha o direito?” – “Ah! não me diga isso, que me está a pôr um problema de consciência!” E António Alçada respondeu-lhe: “Não tenha problemas de consciência, que eu também não tenho”. Lembro-me também da história do chamado manifesto dos 101 (cento e um foi o maior número de católicos que se reuniu para um manifesto desta natureza) publicado em 1965, durante os anos da Revista. Alguém telegrafou também a António Alçada Baptista dizendo: “Felicito-vos pela vossa coragem!” E assinava: “Um anónimo do Porto”.
Éramos assim em Portugal nessa altura. Eram estes os combates. E é entre esta mistificação ou esta realidade que hoje aqui deixo o meu testemunho.
(Texto adaptado da intervenção oral do Autor, revisto por este)